Mapas mentem. Essa é uma função antiga. Desde os cartógrafos medievais que desenhavam dragões nas bordas dos continentes desconhecidos, o mapa serve menos para descrever o mundo do que para domesticá-lo e transformar caos em linhas, incerteza em território, medo em fronteira. Simplificar é o preço da legibilidade. Sabemos disso, mas continuamos viciados em mapas porque a alternativa — conviver com a desordem real – é inadmissível.
O discurso geopolítico contemporâneo ainda sofre do mesmo vício. Vem circulando com mais intensidade a sugestão de um grande conchavo entre as potências do século XXI: Estados Unidos ficariam com o Hemisfério Ocidental, Rússia herdaria a Europa, China dominaria a Ásia. Um mapa de três cores e, portanto, um mapa limpo. Não há documento que prove o acordo, não há assinatura, não há foto de líderes posando em cadeiras barrocas como em Yalta, 1945. Mas a tese ganha força, mesmo porque mitos funcionam antes de serem verificados.
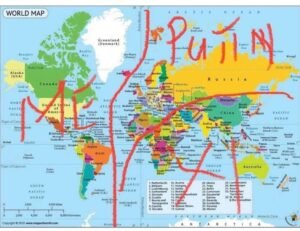
Esse “Yalta 2.0” imaginado cumpre uma função psíquica antes de cumprir função analítica.
De saída, organiza ansiedades. O eterno medo europeu de Moscou, os receios crescentes dos EUA sobre a China, o pânico do Sul Global de ser novamente matéria-prima em tabuleiro desenhado algures. É um enquadramento que simplifica e atende ao anseio diagnóstico: se existe um pacto secreto, ao menos existe uma lógica; se existe lógica, talvez exista previsibilidade. A desordem real assusta mais do que a conspiração imaginada.
O problema é que a pergunta relevante não é se existe um acordo formal, um G3 potencial, mas sim se acordos formais são mesmo necessários para divisões reais de poder? A história sugere que não. Ao longo do século XX, houve repartições tácitas que funcionaram perfeitamente sem retórica oficial — a Guerra Fria e sua acomodação EUA–URSS em zonas de fricção periférica, a passiva tolerância estadunidense com a expansão chinesa nos anos 2000. Grandes potências podem negar em público enquanto, na prática, estabilizam fronteiras de influência simplesmente porque guerra custa caro.
E isso dificulta uma leitura confortável de que o mundo é apenas multipolar e indomável.
Escrevo isso no dia em que forças americanas capturaram Nicolás Maduro em Caracas e o levaram a Nova York para julgamento, acusado de liderar um cartel de drogas. Claramente, uma chicana jurídica para consumo interno, para não classificar a invasão como ato de guerra, mas um corriqueiro cumprimento de ordem judicial.
A chamada “doutrina Trump”, em seu retorno agressivo ao Hemisfério Ocidental, não aponta para um mundo repartido de forma harmoniosa, lustrada por soft-power. Aponta para uma Doutrina Monroe 2.0, ou Corolário Trump. Se no século XIX a doutrina original declarava a América como “esfera” exclusiva dos EUA contra potências europeias, agora o alvo principal é a presença chinesa — comercial, tecnológica, financeira e, em menor grau, militar — na América Latina e no Caribe.
Washington não quer compartilhar nada perto de casa. E agora vocaliza sem pudor, denominando seu quintal. Demonstra que vai agir, certos de que encontraram prepostos de garganta aberta, na ausência de elites estratégicas conscientes e autônomas na América Latina.
Desglobalização seletiva, friend-shoring, vigilância sobre cadeias produtivas, punição a países que se aproximem demais da China em setores sensíveis: não é divisão de mundo, é reafirmação hegemônica. E aqui surge uma questão incômoda sobre a fantasia tripartite. Se os EUA estão dispostos a agir unilateralmente no Hemisfério — capturando chefes de Estado em operações de força —, isso sugere menos um “acordo de cavalheiros” com Moscou e Pequim do que uma decisão de tomar o que consideram seu, independentemente de negociação.
A Europa, por sua vez, vive uma angústia mais sutil do que o medo de ser “cedida” a Moscou.
Teme ser irrelevante. Sem autonomia militar, sem fôlego industrial, sem projeto claro, o continente oscila entre a sombra da Rússia e uma súbita fadiga estratégica estadunidense, temperada pela ameaça cultural-religiosa representada pela imigração desregulada. Um estudo do European Council on Foreign Relations de 2024 revelou que 74% das elites políticas europeias consideram a dependência dos EUA “estruturalmente arriscada” no médio prazo — mas menos de 30% acreditam que seus países conseguiriam sustentar defesa autônoma na próxima década. A dissonância é reveladora. Sabem do problema; não sabem como resolvê-lo.
Isso não é conspiração. É declínio em câmera lenta — que pode, justamente, abrir espaço para acomodações tácitas que ninguém assinará.
A cristalização asiática
Se a Europa é elo fraco, a Ásia é o lugar onde o mundo ensaia algo mais perigoso: a transição de uma aparente policentralidade para um esqueleto bipolar. A tese diz que a Ásia não é “chinesa” e nunca será — porque Japão, Índia, ASEAN, Austrália e EUA equilibram. Isso é verdade. Mas a questão relevante não é equilíbrio; é estrutura. E a estrutura está se cristalizando.
Quad, AUKUS, rearmamento japonês, militarização do Indo-Pacífico, doutrinas de dissuasão integradas: não é caos fluido. Há aqui uma arquitetura de guerra potencial. A recente escalada na crise entre Japão e China expôs a dinâmica: Tóquio adotou discurso mais assertivo — inclusive com declarações sobre a possibilidade de agir ao lado dos EUA em cenário de agressão chinesa contra Taiwan — e Pequim respondeu com exercícios militares em grande escala ao redor da ilha, simulações de bloqueio e fogo real. A acomodação se dá por contenção recíproca.
Mas, essa contenção recíproca não exclui divisão tácita. Um arranjo do tipo “vocês não cruzam certas linhas, nós não cruzamos outras” pode emergir sem ninguém admitir.
A China não busca pacto formal de repartição, nem é muito de sua tradição, pois isso reforçaria suspeitas de imperialismo aos olhos do Sul Global e legitimaria mecanismos de contenção coordenada contra Pequim no longo prazo. A estratégia chinesa é mais ambígua e sempre autocentrada: acumular poder, testar limites, falar em multipolaridade enquanto constrói capacidades para sobreviver num cenário eventualmente bipolarizado. Isso é incompatível com um “Yalta asiático” explícito — mas não necessariamente com um entendimento silencioso sobre até onde cada lado pode ir.
Entre os polos, florescem potências médias e sub-imperiais. Emirados Árabes, Turquia, Arábia Saudita, Irã, África do Sul, Indonésia, Nigéria, cada um, a seu modo, tenta desenhar órbita própria de influência. Fazem isso em tensão ou negociação simultânea com Washington, Moscou, Pequim e Bruxelas. A cada semana assistimos a um encontro dessa natureza. A proliferação desses centros intermediários tornaria impraticável qualquer “acordo de cúpula” que ordenasse o mundo em três zonas estáveis — se o acordo dependesse de estabilidade.
Mas e se não depender?
O caso dos Emirados Árabes é instrutivo. Abu Dhabi projeta poder muito além do Golfo: envolveu-se na guerra do Iêmen, financiou facções em conflitos regionais, instalou ou negociou bases e estruturas portuárias em pontos estratégicos da África — Chifre da África, litoral do Mar Vermelho e tem apoiado regimes militares no Sahel.
Combina presença dura com diplomacia de ajuda humanitária, investimentos em infraestrutura e discurso de modernização. O resultado é a formação de micro-esferas de influência que, em vez de contradizer um mapa tripartite, podem simplesmente operar nas frestas — toleradas enquanto não ameaçarem interesses centrais
É tentador olhar esse cenário e concluir: o mundo é policêntrico, logo ninguém manda, logo não há Yalta, logo há espaço. Mas isso é apenas meia-verdade. Policentrismo às vezes aumenta o atrito, multiplica dependências e cria novas formas de coerção. Não é sinônimo de pluralismo, mas de competição permanente dentro de limites que as grandes potências podem estar definindo.
A Índia encarna a versão sofisticada dessa condição. Multi-alinhamento, autonomia estratégica, cooperação seletiva com todos, confrontação com quem for necessário. Nova Délhi coopera com os EUA no Indo-Pacífico via Quad, mantém e reforça laços históricos com a Rússia em energia e defesa, sustenta relações complexas com a China e participa ativamente dos BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai. Não é neutralidade passiva; é escolha seletiva em múltiplas direções.
Mas há um detalhe desagradável que a maioria dos países prefere esquecer quando fala em “autonomia multipolar”: a Índia consegue isso porque tem poder duro, massa demográfica, indústria estratégica e elite com projeto. Autonomia custa caro. Sem capacidade material, multipolaridade vira paisagem onde outros caçam — ou, pior, onde outros já decidiram quem caça onde.
O Brasil no mapa
A diplomacia sob Lula buscou reviver a ideia de política externa “ativa e altiva”, agora reembalada como “não-alinhamento ativo” e compromisso com a multipolaridade. O país retomou protagonismo nos BRICS, aproximou-se de China e Rússia, enfatizou a necessidade de reformar a governança global — ONU, FMI, Banco Mundial — e se colocou como voz do Sul Global em temas como clima, desigualdade e dívida. Ao mesmo tempo, tentou conservar pontes abertas com EUA e União Europeia, especialmente em transição energética e reindustrialização verde. Parece tentar tudo e conseguir pouco.
O enquadramento é elegante. Mas o multilateralismo multitarefa sofre de um fato básico que nenhuma retórica dissolve.
O Brasil não tem poder duro, nem base tecnológica consolidada, nem elite estratégica estável. Tem commodities, dependência da demanda chinesa, laços sensíveis com insumos russos e exposição profunda ao sistema financeiro americano. Um estudo do IPEA de 2023 mostrou que mais de 80% das exportações brasileiras para a China são commodities primárias — soja, minério de ferro, petróleo bruto. Na direção inversa, importamos manufaturados de média e alta complexidade. A balança é estruturalmente desequilibrada.
E agora, depois de Caracas, a pressão aumenta. Uma solução rápida vai tirar o Brasil do jogo. Caso se prolongue, o custo social e político da lodaçal é imprevisível. Todos perdem.
A lógica de uma Doutrina Monroe atualizada implica não apenas vigilância sobre movimentos político-militares na região, mas também tentativas de moldar a estrutura produtiva latino-americana. Incentivar cadeias de valor “amigas” (friend-shoring), pressionar por certos padrões regulatórios e — como vimos — agir diretamente quando Washington julgar necessário.
O Brasil corre o risco de se ver emparedado: de um lado, uma China que se tornou seu principal parceiro comercial e investidor estratégico; de outro, um EUA que acaba de demonstrar que não hesitará em usar força no Hemisfério.
Se o “grande conchavo” existir — mesmo que tácito, mesmo que negado —, o Brasil pode acordar um dia descobrindo que seu lugar no mapa já foi decidido sem consulta.
A alternativa é a pior de todas: parecer autônomo enquanto na prática se é apenas funcional.
É evidente que a multipolaridade desejada pela tradição da diplomacia brasileira não é oásis. Seria útil ao Brasil se vier acompanhada de capacidade material. Isso exige reconhecer que multipolaridade é meio, não fim — e agir de acordo.
Me permito aqui aventurar num rápido e um tanto óbvio receituário.
Primeiro, criar um ambiente favorável à reindustrialização real. O país precisa escapar da armadilha de exportador primário e construir cadeias produtivas em setores estratégicos: energia limpa, insumos farmacêuticos, semicondutores básicos, defesa. Sem isso, qualquer discurso de autonomia é decorativo.
Segundo, incentivar uma soberania tecnológica mínima. Não se trata de autarquia impossível, mas de reduzir dependências críticas. Acordos de transferência de tecnologia — com chineses, europeus ou americanos — deveriam ser condição para grandes contratos de infraestrutura, não cortesia opcional.
Terceiro, definir uma política regional com substância. Isso significa construir arranjos sul-americanos que impeçam que o continente seja apenas teatro secundário de disputas alheias — e, ao mesmo tempo, evitar a tentação de reproduzir uma mini-Doutrina Monroe brasileira que só isolaria o país de seus vizinhos, mesmo com as dificuldades inerentes aos lados ideológicos.
Quarto, usar as oportunidades que tem sem romantizá-las. Nos BRICS ampliados, Brasília precisa abandonar a postura meramente retórica e propor iniciativas concretas que reduzam vulnerabilidades: fundos de estabilização, redes de pagamento alternativas, consórcios de pesquisa tecnológica. Celebrar a fragmentação do poder global é ingenuidade; usá-la para ampliar margens de manobra é estratégia.
Nada disso é simples. Exige elite com projeto – provavelmente a maior carência nacional – continuidade institucional e capacidade de sustentar apostas de longo prazo — três coisas que o Brasil historicamente desperdiça. Mas a alternativa é pior: um país que fala em autonomia enquanto vai sendo empurrado, por falta de capacidade, para a posição de periferia estável em alguma esfera de influência alheia.
Volto ao título desse artigo. Mapas mentem. Algumas mentiras,. no entanto, acabam virando verdade.
A fantasia de um mundo tripartite, repartido em esferas entre EUA, Rússia e China, pode ser exatamente isso: uma fantasia. Ou pode ser um arranjo que está se formando sem que ninguém precise assinar nada. Ou, finalmente veremos uma fotografia icônica de Putin, Trump e XI, numa cupula do G3.
A realidade é um sistema onde divisões tácitas podem emergir sem acordo formal, onde policentrismo pode evoluir para bipolaridade, e onde países como o Brasil têm menos tempo do que imaginam para decidir seu lugar.
A questão é se o Brasil aparecerá no próximo mapa como sujeito — com contornos próprios, projeto definido, capacidade de barganha — ou apenas como território: uma mancha de cor entre outras, preenchida por quem chegar primeiro com o lápis. A cartografia geopolítica do século XXI está sendo desenhada agora. Em Caracas, em Taipei, em Kiev. A pergunta é quem segura o lápis — e se o Brasil terá algo a dizer antes que a tinta seque.